Este conto venceu o I Concurso de Contos da Academia de Artes, Ciências e Letras de Iguaba Grand, Rio de Janeiro, 2019
Por Matheus Zucato
Chove. Chove uma chuva em águas de março que deixam o verão para trás, finalmente. Deitada no sofá da minha sala escura posso escrever livremente: ninguém ouve, ninguém vê e ninguém perturba meus pensamentos livres e espontâneos que, como uma cachoeira de verão, transbordam violentamente palavras molhadas de sentimentos viscerais. Chove, e talvez escrevo porque chova, ou talvez chova porque escrevo, já que os dois eventos são igualmente aleatórios. Assim é a vida, que existe à mesma maneira aleatória e cuja fonte natural perpetua-se através dos séculos. Escrevo palavras líquidas; divaguei do assunto inicial: a chuva. A chuva que é poderosa, que é mística, uma bruxa cuja sabedoria ancestral é trazida ao solo através de mensagens cifradas nas pequenas esferas precipitadas. Há, percebo, certo efeito sobrenatural na chuva, basta perceber seus efeitos em todos os sentidos humanos: podemos vê-la, tocá-la, cheirá-la, senti-la, ouvi-la e degustá-la, e, em todas essas ações, a chuva transmite qualquer coisa surreal que em nosso íntimo nos faz sentir a necessidade de abrigo. A chuva que hoje cai, motiva-me a permanecer em meu apartamento, deitada na sala escura ouvindo unicamente o seu som, o mesmo do enterro de Luis, há alguns dias — já não sei precisar quantos se passaram por mim, desde então.
Durante o enterro, a chuva caiu como um cobertor, o que me garantiu certa privacidade sob o guarda-chuva negro que formava ao meu redor uma cortina d’água. Enquanto isso, as palavras do padre Moacir jorraram muito belas e mecânicas, acostumado como está com a leitura da Bíblia durante os enterros. O coroinha ao seu lado tinha olhos arregalados, talvez de medo; “medo de quê?”, pensei, “de meu filho imóvel dentro de uma caixa de madeira?” Senti-me culpada, pois era o enterro de Luis e eu refletia a respeito dos sentimentos de um coroinha que segurava um enorme guarda-chuva sobre o padre e ele. A verdade é que não sabia sofrer, pois não sei sentir em público, reservadas como são as emoções expressivas dentro de meu apartamento — em meu interior. E, por não saber me portar no enterro de meu filho, enterrei a mim mesma no cemitério em meu âmago, onde jazem os sentimentos viscerais de que há pouco falava. Ah, não sabendo lidar com a morte, morri também; e comecei, então, a jorrar palavras de um universo caótico e metafísico chamado mente humana.
A chuva cai, contínua, tão contínua quanto a vida aparenta ser e que de repente se esvai em descontinuidade, ao atingir seu fim — sem hora certa para acontecer. Confesso que, de todos os tipos de morte, a natural seja a mais aceitável, já que todas as outras sejam condenadas e constantemente rejeitadas por nós. E, desta rejeição, surge o medo e do medo surge o tabu, como se, ao discutirmos o assunto, estivéssemos atraindo morte para nós mesmos; como se, ao falarmos de morte, estivéssemos encurtando nossa própria vida egoísta. A ironia reside na natureza, pois os silenciosos que não falam do assunto também encurtam suas vidas a cada segundo que se vai — e que não volta mais —, pois estão sujeitos ao envelhecimento e às aleatoriedades da vida tanto quanto os falantes. Luis, o silencioso, e Mafalda, a falante, que respira oxigênio e expira besteiras no papel enquanto seu filho jaz sob a terra molhada. Todos os caminhos levam ao mesmo fim. Chegamos mesmo a fingir que o fim não existe, e daí surgem as religiões que prometem a “vida eterna”, ou a paradoxal vida após a morte. Quem sabe seja mais fácil morrer de acordo com a morte do que contra a mesma. Afinal, o fim é a cola que une a todos nós.
A chuva não cessa. Continuo deitada e não vejo ninguém ao meu redor. Dizem que se tiver sorte chegarei aos cem anos de idade. Viverei um século inteiro de visões e desilusões, euforias e lutas por sobrevivência instintiva. E, caso chegue, sentir-me-ei, quem sabe, como Ivan Ilitch, aquele de Tolstói, um pobre coitado que aprendeu a viver muito tarde, já no fim da trajetória. Não temo minha morte; temo é não saber viver e então viver de forma superficial, a desejar e venerar as coisas ínfimas da vida. Temo a morte de Luis, que um dia deixará de me ser estranha, quando eu me acostumar com sua ausência. No topo da montanha do horror, temo viver cem anos de solidão e perceber não ter retribuído o amor de meu filho nem ter amado a mim mesma. E aí morrerei em agonia angustiante desejando poder viver mais cem anos para corrigir um século de erros voluntários.

Chove. Chove, e talvez a chuva caia porque tenha de cair e somente resta-me aceitá-la, pois na chuva posso ver a arte da natureza que pinta quadros dos mais belos e também mais horríveis; compõe canções que talvez não estejamos preparados para ouvir e escreve palavras que não precisam ser lidas, mas somente sentidas em alguma-coisa-além-que-não-sei-explicar-e-tampouco-gostaria-de-chamar-de- Deus. Deus é experimental. Deus é líquido. Deus é Luis e é a dor de que sinto vergonha em não saber sentir e que, por isso, escondo dentro de mim. Deus é minha vergonha de não ter derramado uma lágrima sequer em público por meu falecido filho; o público precisa das lágrimas para acreditar na tristeza do outro. A plateia precisa do espetáculo da demonstração externa. Deus era a chuva que caía e que me dava lágrimas artificiais, de repente. Deus é solidão, é interior, é Luis. Se Deus vive, também o faz Luis. Luis Alberto dos Santos, vivo, passa bem; não é o primeiro da turma e sua mãe não se importa com isso porque é vivo e, vivo, faz com que ela acredite na divindade de Deus. Chove sem parar; chovem palavras no papel, palavras de dor que escrevo com tinta pluvial. Pintam-se palavras; e descobri o motivo da chuva cheirar à terra: culpa de Luis, parte da terra, da Terra, da chuva interna deste apartamento. Rogo para que esta única lágrima seja produto de minha própria chuva e de palavras que existam como eu existo. Eu, em cem anos terei aceitado o fim da vida, mas não da chuva nem das palavras que molharão eternamente a terra, o apartamento, Deus e Luis.
De Minas Gerais, Matheus Zucato é autor dos livros Os Dois Fazendeiros (Editora Autografia, 2018), e Realidades Rompidas (Edição do autor, 2021). Participante em três antologias de contos e cronista mensal em nove jornais de São Paulo e Minas Gerais, desde 2018. Foi vencedor do I Concurso de Contos de Iguaba Grande (AACLIG), em 2019, e recebeu menção honrosa no VIII Concurso Literário da Academia Penedense de Letras (APLACC), em 2022
Assine
Nossa Newsletter
Inscreva-se para receber nossos últimos artigos.
Conheça nossa política de privacidade



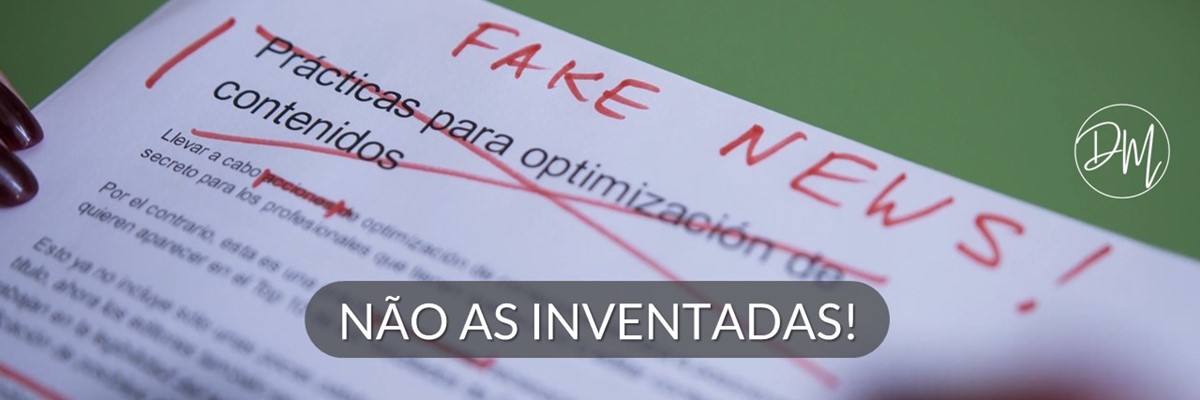



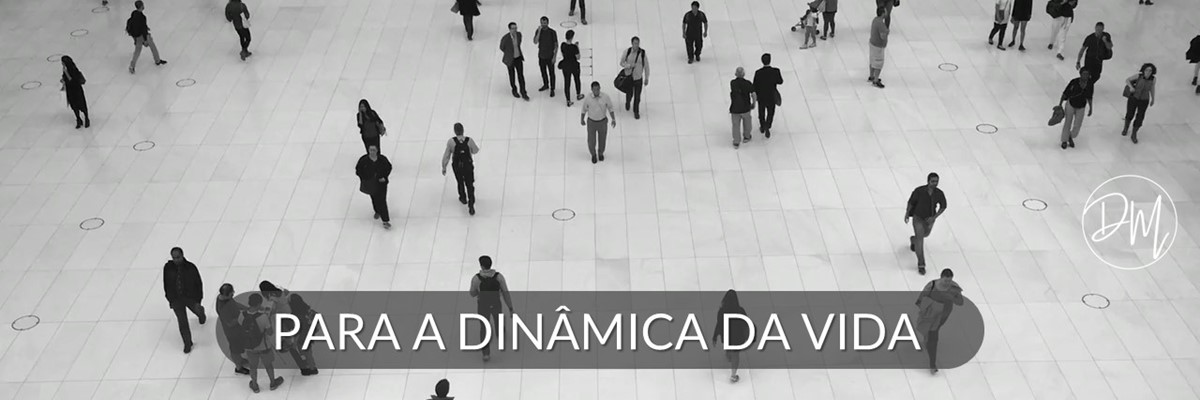

Compartilhe:
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)
- Clique para imprimir(abre em nova janela)











No comment yet, add your voice below!