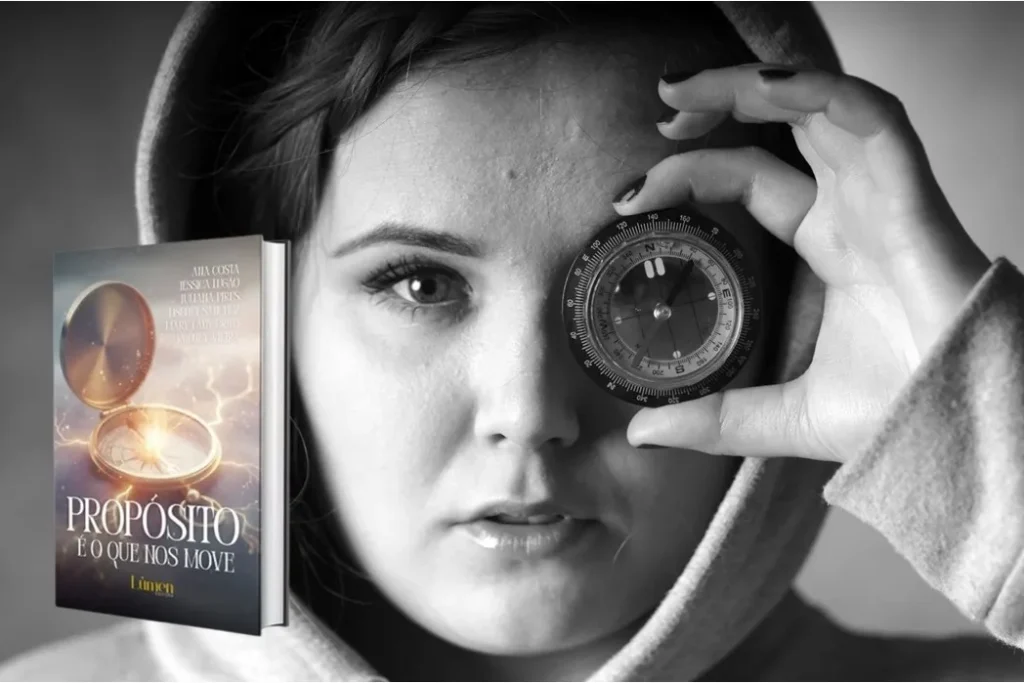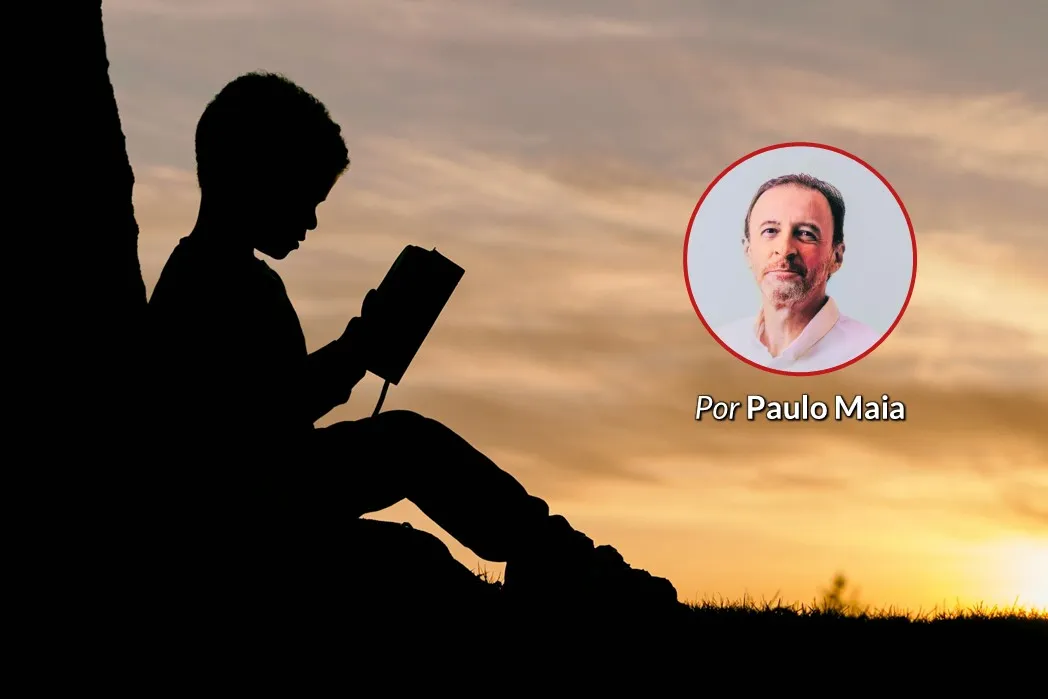Por Tânia Lins
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), somente em 2025, mais de quatro milhões de mulheres estão enfrentando o risco de serem submetidas à mutilação genital. A organização também registra que mais de 230 milhões de meninas e mulheres vivem hoje como sobreviventes dessa prática devastadora e cruel. E o cenário pode se agravar: se nada for feito nos próximos cinco anos, o número de vítimas poderá ultrapassar 27 milhões em todo o mundo.
Essa cruel realidade vivida por tantas mulheres foi retratada no livro Infiel, da escritora e ativista somali Ayaan Hirsi Ali.
Num canto da sala, a olhos menos atentos, era “algo” quase imperceptível. Acostumara-se àquela postura arqueada, como quem carrega um fardo nas costas — e, de fato, era assim. O silêncio de seus passos pela casa era sinônimo de prudência, algo que lhe fora imposto pela opressão vivida por tantas como ela. Calar, consentir, não sentir.
Recém-saída da infância, habituara-se a ver um mundo opaco, fragmentado e embaçado, como se tudo fosse estranhamente quadriculado. Como seria sentir o vento nos cabelos, usar algo por gosto e não por imposição, andar sem a obrigatória companhia masculina, correr pelos campos e sorrir ao toque da chuva em seu rosto de menina?

A educação opressora, fundamentada na falácia de identidade cultural, deturpava a legitimidade de seus questionamentos ao constatar a dicotomia das realidades — masculina e feminina. Assim atua um sistema castrador, aliciador de mentes, criando nas mulheres um sentimento incômodo de não pertencimento, anulando qualquer indício de pensamento livre sob pena de ser considerada ingrata, impura, desonrada.
Contrariando um discurso tendencioso, que limita a capacidade feminina, seu coração pulsava por liberdade; sua mente ansiava por conhecer as letras; queria escolher o próprio caminho. Mas essa ânsia era abafada pela voz da mãe, que sempre a advertia: “Somos mulheres. Nunca se esqueça de sua ‘condição’”.
No silêncio a que era submetida não havia serenidade, só temor, pois sabia que a “conversa de homens” deliberaria sobre seu destino. Ali, naquele cômodo da casa, ela, cuja presença era ignorada intencionalmente, seria entregue ao seu futuro marido, seu dono, seu carrasco, seu algoz. A posse, infelizmente, não estava demarcada somente pelo uso do pronome, mas pela violência física e psicológica, anulando qualquer defesa ou recusa.
Seu medo é real. São inúmeros os horrores aos quais as mulheres são submetidas — estupros, matrimônio precoce e/ou forçado, exploração sexual, feminicídio —, que provocam feridas físicas e dores psicológicas imensuráveis. Outras violências menos divulgadas endossam essa lista de crueldades. Dados da ONU estimam que 3,8 milhões de adolescentes africanas podem ter sido vítimas da prática denominada breast ironing (em inglês, passar o seio a ferro), que consiste na mutilação das mamas por meio de instrumentos incandescentes (como ferro, pedra, colher, cabo de madeira), com o pretenso objetivo de adiar a iniciação sexual das jovens.

De acordo com a ONU, somente em 2025, mais de quatro milhões de mulheres estão enfrentando o risco de serem submetidas à mutilação genital. A prática — reconhecida mundialmente como violação dos direitos humanos — consiste na remoção deliberada da genitália feminina externa, restando apenas um orifício para que a urina e o sangue menstrual sejam expelidos. Na Somália, por exemplo, a operação costuma ser realizada com uma navalha de barbear e não se utiliza anestesia. Desnecessário alertar sobre os casos de infecção, necrose e óbito em decorrência do procedimento.
Além das mutilações a que são submetidas, mulheres são “costuradas” até o casamento, quando a vagina será violada no ato sexual ou com o emprego de objeto perfurante. Há regiões nas quais os homens, ao se ausentarem por um longo período de casa, “costuram” novamente suas esposas para evitar que elas lhes sejam infiéis. Outros, ainda, recorrem à prática para intensificar o prazer sexual masculino, utilizando-se criminalmente — tal como um instrumento, pois assim é considerado — do corpo feminino.
É assim que muitas, ou melhor, todas as mulheres são tratadas. Sim, não há exagero ao generalizar, porque todas nós, em menor ou maior grau, somos submetidas a diversas formas de violência, quando temos nosso direito de ir e vir ameaçado; nossos corpos são tocados sem nossa permissão; somos caladas por homens com tom professoral; recebemos salários mais baixos; sofremos etarismo com mais frequência; somos sobrecarregadas com tarefas domésticas e com o cuidado com os filhos, idosos e doentes; responsabilizadas pela violência que sofremos, julgadas e condenadas.
A violência contra as mulheres não se restringe a poucas regiões do mundo. Trata-se de um câncer generalizado, que deve ser extirpado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase uma em cada três mulheres — cerca de 840 milhões de pessoas em todo o mundo — já sofreu violência física ou sexual. No Brasil, segundo dados do Ministério das Mulheres, nos sete primeiros meses de 2025, foram registradas 86.025 ocorrências de violência contra a mulher — uma média de 17 denúncias por hora.

Em sociedade, assistimos a um convívio tóxico com a tolerância: nações que se calam e, convenientemente, fecham os olhos para tais atrocidades, amparando-se na desculpa de que tradições e costumes devem ser respeitados. Trata-se de vidas que são dilaceradas, de mulheres que são feridas no corpo e na alma, que são forçadas a práticas desprezíveis, que não têm seus direitos assegurados e que, muitas vezes, pela cultura vigente, nem sequer têm consciência dos abusos sofridos, sendo incentivadas a relevar os “ímpetos” masculinos e obrigadas a adotar um comportamento de obediência plena e irreflexiva. Até quando o estupro será legalizado sob o verniz do matrimônio?
Essa cruel realidade vivida por tantas mulheres foi retratada no livro Infiel, da escritora e ativista somali Ayaan Hirsi Ali. Na obra autobiográfica, Ayaan expõe a dor da mutilação genital aos cinco anos de idade e as surras diárias que recebia da genitora por não se encaixar no padrão sexista. A escritora, por questões políticas que envolviam seu pai, mudou-se muitas vezes e, assim, frequentou escolas em diversos países, vivenciando costumes que iam do rigor muçulmano da Arábia à miscigenação cultural do Quênia. Na adolescência, Ayaan converteu-se ao fundamentalismo islâmico, mas a perspectiva de casar-se com um desconhecido (imposto por seu genitor) a fez questionar as tradições e os costumes vigentes, o que resultou em sua fuga para a Holanda. Lá, ela se deparou com valores inquestionáveis e soberanos: respeito, liberdade de expressão e igualdade de direitos.
Para essa mulher, calar talvez fosse a única maneira de continuar viva, pois regimes opressores não aceitam ser contrariados ou questionados. Ayaan, contudo, conhecera a verdade e não havia como retroceder. Sua mente estava agora repleta de ideais humanistas, que a tornaram uma defensora dos direitos das mulheres muçulmanas, sendo eleita em 2005 pela revista Time uma das cem personalidades mais influentes do mundo.
A vida pode, sim, mudar de direção e escrever novos capítulos — mas nem sempre é assim. Naquela sala, em um recôndito país qualquer, a jovem recebeu a dura sentença. No entanto, a ordem — pronunciada de forma lacônica pelo genitor — não lhe despertou as emoções que se poderia esperar. Ali era a vida real: cruel para tantas como ela, que seria entregue a um desconhecido — um homem embrutecido, cuja violência contava com a chancela da sociedade.
Uma lágrima deslizou pela face da jovem, mas não havia como notá-la. O véu cobria seu rosto e encarcerava sua alma, tal como uma mortalha.