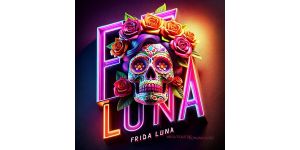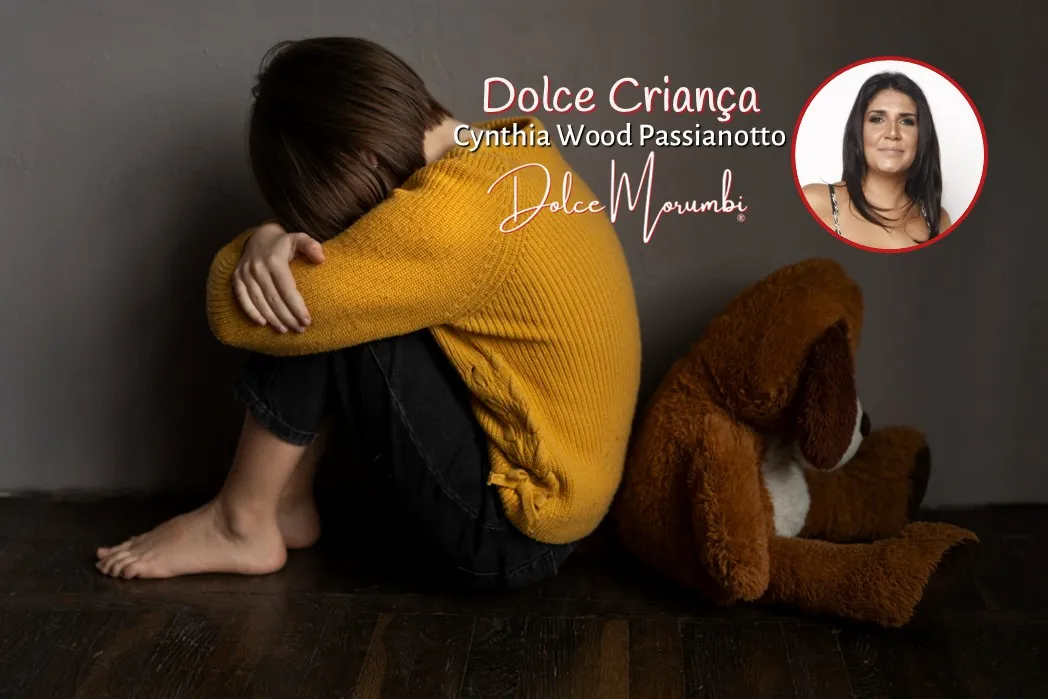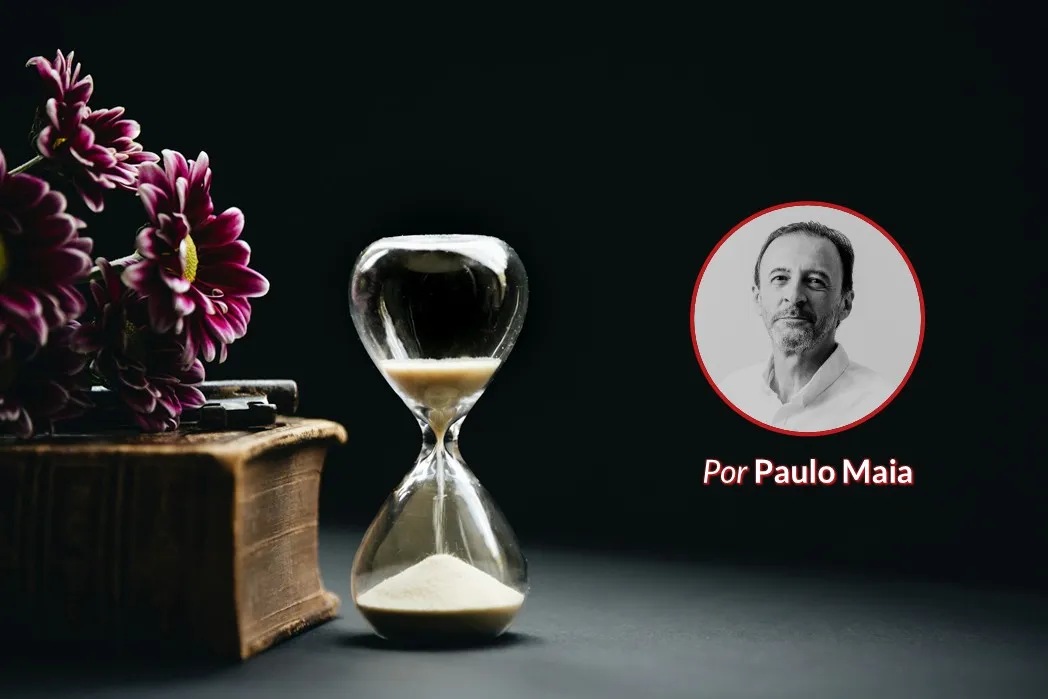Por Tânia Lins
A visita à antiga fazenda obedecia a um chamado de uma alma ávida por conexões que transcendiam a razão, vasculhando o passado em busca de respostas para um presente ainda tão arraigado a memórias seculares. Ali, na casa-grande, a professora permitiu-se tocar nos móveis imunes ao desgaste do tempo, silenciosas testemunhas de tantos acontecimentos. Cada objeto que decorava a ampla sala guardava nas entranhas o suor das mulheres que haviam trabalhado incansavelmente para manter tudo conforme o gosto inflexível das sinhás.
Estar naquele solo, com sombras de tantas atrocidades, evocava nela um misto de dor, um aperto no peito que a sufocava. Ali, pessoas foram feridas, vilipendiadas, arrancadas da terra-mãe, destituídas de todos os seus direitos, escravizadas por mais de três séculos — gerações condenadas à violência e ao abandono, filhos retirados do colo de suas mães, impedidos de conhecer sua história, laços familiares desfeitos.
O olhar dela percorreu o ambiente e deteve-se no canto da sala — ali, esquecido, repousava um piano. Sentiu um pesar profundo ao constatar que tocá-lo era um privilégio reservado aos brancos; assim como aprender a ler e escrever. Mais adiante, através da janela, viu descortinar um sem-fim de terras. O casarão, localizado no alto, permitia ao senhor uma ampla visão de tudo o que acontecia ao redor. Ao fundo, a construção fúnebre sufocava os gritos de tantos que ali pereceram. No meio do pátio, agora invisível aos olhos físicos, jazia a sombra do tronco que acorrentou tantos. Do outro lado, um galpão servia como ambulatório. Construído apenas após a Lei Eusébio de Queirós – promulgada em 4 de setembro de 1850 —, o espaço oferecia cuidados médicos mínimos com um único objetivo: reduzir perdas, já que a nova legislação dificultava a reposição de mão de obra escravizada.

Estar ali, ainda que o cenário houvesse se transformado, era uma forma de se conectar à força de uma ancestralidade pulsante. A professora sabia que precisava escrutinar o passado para galgar passos mais assertivos rumo ao futuro, uma propositiva valiosa, mas que carecia de um elemento essencial – consciência. Observou com cuidado sua pele, reconhecendo nela os tons de sua herança genética, que representavam, acima de tudo, o sangue de seus irmãos cativos, a memória de gerações que a precederam. Com delicadeza, tocou a guia de proteção que trazia no pescoço, presente da avó materna.
A verdade dilacera até os mais otimistas: os ventos de liberdade não passaram de uma leve brisa. De origem estrutural e sistêmica, a desigualdade racial no Brasil persiste, entre outros fatores, pela insuficiência e ineficácia de políticas públicas para seu enfrentamento. Apesar dos avanços, os dados expõem como o acesso à educação continua sendo um desafio para a população negra no Brasil. De acordo com a edição 2023 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua Educação), a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos com 15 anos ou mais caiu para 7,1%, o menor índice desde 2016. Contudo, esse número continua sendo mais do que o dobro do registrado entre brancos, que é de 3,2%.
Infelizmente, os desafios não se limitam ao acesso à escola; eles iniciam no direito à aprendizagem. Um estudo conduzido pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), encomendado pela Fundação Lemann, analisou os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2019 e apontou diferenças abissais no desempenho de alunos pretos e brancos. Portanto, a cor da pele ainda determina oportunidades — algo estrutural, pois, muitas vezes, os próprios educadores reforçam estereótipos que deveriam ser combatidos, uma vez que afetam incontestavelmente o desempenho e protagonismo de alunos negros. Há uma clara necessidade de letramento racial para desconstruirmos conceitos que perpetuam o racismo em nossa sociedade.
Muito além dos números, é necessário um olhar mais crítico para a história recente do nosso país. Apenas 137 anos nos separam de acontecimentos que sangram até hoje. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, na prática, representou um gesto mais simbólico do que efetivo: aboliu a escravidão formalmente, mas abandonou milhões à própria sorte, sem políticas de inclusão que devolvessem a eles a dignidade usurpada.

Reconhecermos que a libertação dos escravizados só ocorreu há pouco mais de um século — o Brasil foi o último país do Ocidente a promulgar a abolição — é apenas o primeiro passo de uma longa jornada, que precisa avançar até que a igualdade de direitos se torne, enfim, uma realidade.
O dia seguinte de milhões de escravizados — agora “libertos” — foi amargo; e a sensação de que nunca houve um amanhecer de fato perdura, uma vez que o racismo está presente em estruturas que moldam a vida das pessoas ainda na infância: desde as brincadeiras até os contos de fadas, repletos de heroínas e heróis brancos. Nesse cenário, políticas como a Lei de Cotas não são privilégios, mas ferramentas de justiça histórica para equilibrar minimamente uma balança que sempre pesou contra os mais vulneráveis. Promover a equidade na educação é garantir que o futuro do país seja construído com mais justiça, diversidade e representatividade.
Ainda impactada pela corrente de pensamentos que clamavam por se transformarem em ações efetivas, a professora ouviu, ao longe, as vozes vindas da senzala — ecos de um Brasil Colônia amoral.
Lá na úmida senzala, / Sentado na estreita sala, / Junto ao braseiro, no chão, / Entoa o escravo o seu canto, / E ao cantar correm-lhe em pranto/ Saudades do seu torrão… // De um lado, uma negra escrava/ Os olhos no filho crava, / Que tem no colo a embalar… / E à meia voz lá responde/ Ao canto, e o filhinho esconde, / Talvez pra não o escutar! // Minha terra é lá bem longe, / Das bandas de onde o sol vem;/ esta terra é mais bonita, / Mas à outra eu quero bem! // 0 sol faz lá tudo em fogo, / Faz em brasa toda a areia;/ Ninguém sabe como é belo/ Ver de tarde a papa-ceia! // Aquelas terras tão grandes, / Tão compridas como o mar, / Com suas poucas palmeiras/ Dão vontade de pensar…// Lá todos vivem felizes, / Todos dançam no terreiro;/ A gente lá não se vende/ Como aqui, só por dinheiro. […]
Emocionada, reconheceu o poema “Canção do africano”, escrito em 1863 por Castro Alves — o poeta abolicionista. Silenciou sob a forte impressão dos sentimentos que abrigava em seu coração; na solenidade do momento, não cabiam palavras, apenas a consciência de que ainda enfrentaremos um longo inverno até que a primavera da igualdade desabroche no país, no mundo, em nós.